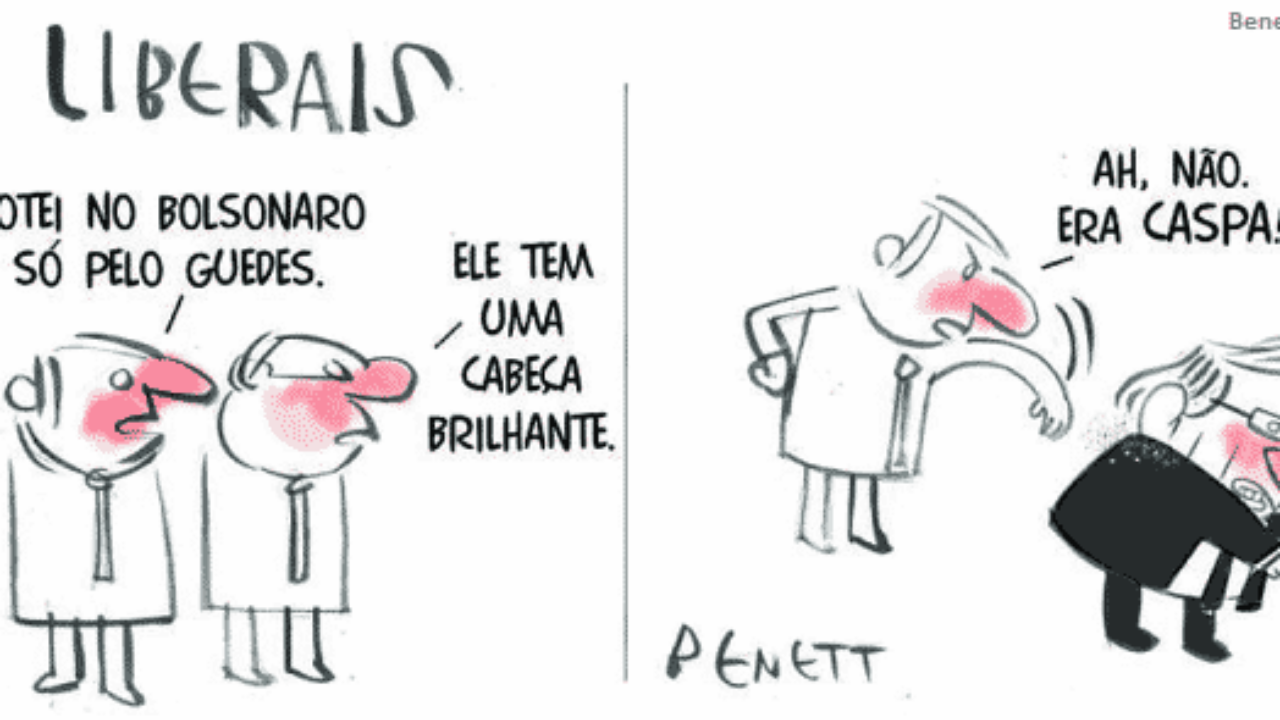O músico Ludwig van Beethoven teve um irmão mais velho, Ludwig Maria, que morreu seis dias depois de nascido em Bonn, na Alemanha, em 1769.
CYNARA MENEZES
Alguns psicanalistas especularam sobre o quanto afetou a psique do pintor Vincent Van Gogh o fato de ter tido um irmão mais velho, Vincent, que veio ao mundo natimorto em 30 de março de 1852, exatamente um ano antes dele nascer e de quem herdou inclusive o nome do meio, Willem. Além da possível luta interna sobre ser o “filho substituto”, Van Gogh teria se sentido “substituído” novamente quando seu querido irmão Theo nomeou o próprio filho como Vincent.
Salvador Dalí teve um irmão mais velho, Salvador, que morreu de meningite aos três anos de idade em 1903 e cuja lápide com seu nome inscrito nela assombrou a infância do pintor catalão como um jogo de espelhos entre a vida e a morte.
Links patrocinadosVocê pode gostar
“Minha família fez uma coisa muito boa e muito terrível ao mesmo tempo: me deu o mesmo nome do meu irmão morto. Então eu, para diferenciar-me de meu irmão morto, teria que cometer todas estas excentricidades, para afirmar constantemente que eu não era aquele irmão morto, que eu era Dalí, o Dalí vivo”, disse o pintor em 1977.
Pouca gente sabe, mas, em setembro de 1972, um bebê mineiro recebeu o nome de seu irmão mais velho, Stuart Angel Jones, assassinado aos 25 anos, em maio de 1971, após ter sido arrastado por um jeep pelo pátio interno da base aérea do Galeão, com a boca no cano de descarga do veículo, torturado por lutar contra a ditadura militar no Brasil.
Sete meses após Stuart Angel ser capturado no Grajaú, o pai dele, o norte-americano-canadense Norman Angel Jones, separado da estilista Zuzu Angel desde 1960, e a mulher, Madalena, estavam gerando seu segundo menino. Já tinham Ulisses, com 6 anos. Um ano e quatro meses depois do desaparecimento de Stuart Angel no Rio de Janeiro, outro Stuart Angel nascia em Patos de Minas.
O irmão caçula do guerrilheiro “Paulo”, do MR-8, é candidato a vereador em Simão Pereira, bucólico município mineiro de 2500 habitantes, mais perto do Rio do que de Belo Horizonte. Não usa o nome do irmão, mas Tuty da Ambulância, apelido pelo qual é conhecido na cidade
Hoje, aos 48 anos, o irmão caçula do guerrilheiro “Paulo”, do MR-8, é candidato a vereador em Simão Pereira, bucólico município mineiro de 2500 habitantes, mais perto do Rio do que de Belo Horizonte, pelo PSDB. Não usa o nome do irmão, mas Tuty da Ambulância, apelido pelo qual é conhecido na cidade.
“A família era espírita”, conta Tuty, sobre a origem da ideia de batizá-lo com o nome do primogênito. “Meus pais foram no centro e a entidade falou: ‘Seu filho vai voltar para você’. O pai colocou o nome em mim como homenagem.” Fisicamente, é Ulisses quem se parece mais com Stuart Angel, não o xará.
A jornalista Hildegard Angel, filha de Zuzu e Norman, e portanto irmã de pai e mãe do primeiro Stuart (há ainda a mais nova, Ana Cristina), só conheceu os filhos de Madalena quando a mãe dela morreu, num acidente de carro em 14 de abril de 1976 na saída do Túnel Dois Irmãos (atual Túnel Zuzu Angel), que a Comissão da Verdade comprovou ter sido provocado pelos militares. A estilista dedicara a vida a investigar e encontrar os culpados pelo desaparecimento do primeiro “Tuti”, cujo corpo jamais foi encontrado. Segundo o depoimento de um capitão reformado da Aeronáutica à Comissão, Stuart Angel teria sido enterrado na cabeceira da pista da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio.
Norman, Zuzu com Ana Cristina, Hilde e Stuart. Foto: acervo Instituto Zuzu Angel
O pai deles, Norman, morto em 1985, surge nas memórias dos filhos de ambos os casamentos como um personagem um tanto ausente, quase sempre de passagem, viajando muito. “Meu pai começou a percorrer o Brasil em seu serviço militar, trabalhando para a embaixada dos EUA, no Rio”, conta Hilde. “Ele comprava cristal de rocha para o governo norte-americano. Conhecia o Brasil inteiro, de Norte a Sul, capitais e interior. Queria viver no interior de Minas. Minha mãe, que nasceu em Curvelo e estudou em Belo Horizonte, onde conheceu meu pai, era fascinada pelo Rio de Janeiro. Desejava criar lá os filhos que tivessem.”
O primeiro Stuart nasceu em Salvador, onde Zuzu e Norman viveram após o casamento, com ele ainda envolvido com mineração. “Depois vieram para o Rio, onde minha irmã e eu nascemos. Este, eu acho, foi o pomo da discórdia do casal, pois papai se manteve trabalhando, viajando pelo interior (adorava a estrada), e vinha uma vez por mês, às vezes duas, para a casa no Rio.” Comento com Hilde que nunca havia ouvido falar do pai dela, só de Zuzu. “De fato, mamãe nos criou sozinha. A presença do meu pai em casa, mesmo quando casados, era esporádica. Contudo, ela sempre o elogiou na ausência, nunca o desmereceu. Ela o considerava um bom homem.”
“Meu pai e minha mãe não tinham divergências políticas, tinham divergências de escolhas de vida”, continua Hilde. “Meu pai admirava a luta de minha mãe na busca de Stuart, mas se preocupava com o risco de isso recair sobre mim e minha irmã. Ele também foi sequestrado e torturado pelos que procuravam Stuart, mas nunca me contou, nem contou esse fato, que foi revelado à família de Simão Pereira por um militar da região, depois da ditadura. Perdeu quase todos os dentes na tortura. Quando o vi de novo, com dentadura, ele disse que tinha arrancado porque não gostava de dentista.”
Além dos três filhos com Zuzu, dos dois com Madalena, e da filha de criação Abadia, Norman teve mais três de uma outra relação em Minas: Praxíteles, Gwendolyn e Edgar Bizagio Jones.
Quando deixou o Rio, Norman criou um abrigo de menores em Simão Pereira, a cidade onde Stuart quer se tornar vereador. Ali ajudou a criar mais de 50 meninos carentes que o chamavam “Pai Jones” e que são tratados como “irmãos do orfanato” por Tuty da Ambulância, como José Carlos de Jesus, o Carlinhos, cuja formação em Medicina muito orgulhava o gringo. “Todas as crianças foram crescendo, se formando. Eu, devido ao estudo, fui o último a sair. Foi um projeto social muito bonito, tirou muitas crianças da rua, do vício. Recebemos muito amor e ele jamais nos abandonou”, diz Carlinhos sobre o patriarca dos Angel Jones.
Tuty me conta que, adolescente, se interessou por política, se filiou ao PT e foi “cara-pintada” em Brasília durante o impeachment de Fernando Collor, em 1992. Depois, desencantou-se e só voltou a se interessar novamente agora, para combater o grupo bolsonarista do prefeito da cidade. Por que o PSDB? “Pela oportunidade. O PT não lançou candidato aqui. Tenho o sangue para o lado da esquerda, por tudo que a gente passou. Gosto muito de alguns ideais da esquerda”, diz. “Mas eu não sou ligado a partidos, me sinto estranho em relação a isso.”
“Quando era adolescente, cheguei num ponto de jurar vingança. Mas tirei esse pensamento da minha cabeça. Sangue gera sangue. Percebi que iria me igualar aos algozes do Stuart”
O candidato desconversa quando pergunto por que se afastou do PT. Diz que não aceitava “a política de alianças”. Mas seu perfil no facebook entrega que, pelo menos durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi seduzido pelo clima hostil à esquerda no país. Há postagens em defesa do “escola sem partido” e compartilhamentos de postagens anti-Lula de perfis reacionários, como o Endireita Brasil. Antes de 2015, suas postagens públicas focavam mais no questionamento de pastores e do fundamentalismo religioso.
–Você não seria capaz de entrar para a luta armada como Stuart, então?, pergunto.
–Pelo contrário. Seria, sim. Não posso negar que minha entrada na política seja por causa disso. Quando era adolescente, cheguei num ponto de jurar vingança. Mas tirei esse pensamento da minha cabeça. Sangue gera sangue. Percebi que iria me igualar aos algozes do Stuart.
Stuart conta que o velho Norman, apesar de ser uma pessoa fechada, deixava transparecer tristeza com o assassinato bárbaro do filho mais velho. “Ele poupava a gente dessas coisas. Mas uma vez foi chamado para uma festa e, na casa onde tinha essa festa, os pés das árvores eram pintados de branco. Ele falou que não ia porque aquilo lembrava o quartel e o quartel lembrava a morte do filho dele. Eu era pequeno e isso me marcou”, lembra Tuty. “Ele colocava uma cadeira em frente à praça –nossa casa é bem na praça– e você via tristeza nele, sim. Não era um homem que você podia falar ‘um homem feliz’. Carregava uma dor. Ele falava muito bem do Stuart, mas não levava a conversa adiante.”
Tuty, o candidato, faz sua campanha eleitoral através de vídeos que dispara pelo whatsapp aos moradores de Simão Pereira, e onde aparece caminhando pela cidade, às vezes acompanhado da trilha sonora de passarinhos e cigarras, mostrando lugares e falando de seus projetos, inclusive na praça que o pai apreciava contemplar: os brinquedos do parquinho, uma pista de corrida, uma ciclovia, um campinho de futebol… Tudo muito simples, direto e afetuoso.
“Stuart 2 não teve a formação ideológica de Stuart 1, mas a dedicação e o amor ao próximo são os mesmos. Stuart 2 é tão modesto quanto Stuart 1, que não se preocupava com vaidade e bens, não tinha mais roupas do que precisava, nem sapatos”, conta Hildegard Angel
“Os Stuarts têm grande semelhança nos valores humanos. Stuart 1 era um homem bondoso, como Stuart 2 é também. Ambos igualmente honestos, característica sempre cultivada por nosso pai e também pelas mães. Stuart 2 não teve a formação ideológica de Stuart 1, mas a dedicação e o amor ao próximo são os mesmos. Stuart 2 é tão modesto quanto Stuart 1, que não se preocupava com vaidade e bens, não tinha mais roupas do que precisava, nem sapatos. Quando nossa mãe quis lhe dar um carro, recusou. E outra característica marcante de ambos é a de tratar a todos igualmente”, compara Hildegard.
Stuart 2, como diz Hilde, conta que a irmã jornalista quis que ele fosse estudar na Alemanha, que tivesse cidadania canadense, e o levou para morar no Rio, onde chegou a trabalhar na empresa do cunhado, Francis. “‘Você é um bichinho do mato, vou te transformar num bichinho da cidade’, ela dizia. Mas eu gosto de ser bichinho do mato”, ri Tuty.
“Quando Stuart tinha 18 anos”, conta Hilde, “Madalena, sua mãe, me procurou, porque ele queria ir para os EUA, se eu podia ajudar. Nosso tio, também Stuart, estava disposto a receber Stuart sobrinho em sua casa, na Flórida, hospedando-o por um ano. No entanto, ele não falava inglês nem parecia muito desejoso de aprender. Seu amor eram as plantas e os animais. No tempo em que ficou morando conosco, ele fez vários canteiros de horta –uma beleza!– e construiu e montou um galinheiro.”
A história do primeiro Stuart Angel Jones permaneceu nebulosa para seu irmão e homônimo até a adolescência. Não foi pelo pai que Stuart soube da vida trágica de seu antecessor, mas por comentários esparsos dos “irmãos” no orfanato. Foi só depois dos 19 anos, quando morou com Hildegard, que ficou conhecendo todos os detalhes.
Quero saber de Tuty da Ambulância se, a exemplo das figuras históricas que receberam o nome de um irmão que se foi, isto teve um peso em sua vida. “É um pouco forte. Cresci realmente com um peso. Você tem o nome de uma pessoa que se deu, se doou, que foi morto de uma forma terrível, pela liberdade de um país. Cresci na pressão de ter o nome de alguém que foi importante para o Brasil e de poder honrar esse nome com as pequenas atitudes. Isso pesou, sim, em minhas atitudes, minhas escolhas”, diz. “Se ele aguentou tudo aquilo, eu não podia recuar.”
Uma nova forma de fazer jornalismo. Cultura, política, feminismo, direitos humanos, mídia e trabalho. Editora: Cynara Menezes
Revista Forum